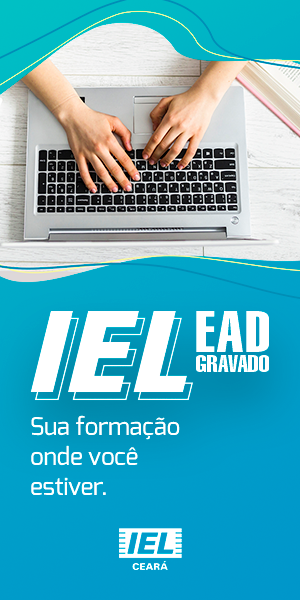O dia 15 de agosto é feriado estadual no Pará e marca um dos episódios mais emblemáticos da história brasileira: a adesão da então Província do Grão-Pará à Independência do Brasil. O fato ocorreu em 1823, quase um ano após a proclamação feita por Dom Pedro I, e transformou o Pará na última província a reconhecer oficialmente o novo Império. Mas, ao contrário do que a imagem festiva pode sugerir, esse foi um processo marcado por tensão, interesses econômicos, blefes militares e revoltas sangrentas.
O contexto: uma província voltada para Portugal
No início do século XIX, o Grão-Pará mantinha vínculos muito mais estreitos com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. A navegação à vela, dependente dos ventos, favorecia o trajeto entre Belém e Portugal, encurtando distâncias e fortalecendo relações comerciais, políticas e culturais.
A elite local — composta por comerciantes, militares e autoridades eclesiásticas, em sua maioria portugueses — temia que a adesão ao Brasil significasse perda de privilégios políticos e econômicos. Belém possuía o mesmo status da cidade do Porto, e até 1826 seu bispado esteve subordinado ao Patriarcado de Lisboa.
Segundo a historiadora Magda Ricci, da Universidade Federal do Pará (UFPA), a ligação com Portugal era tão intensa que, mesmo após a independência em 7 de setembro de 1822, os três deputados do Pará e do Rio Negro permaneceram nas Cortes de Lisboa e assinaram a constituição portuguesa. “O Grão-Pará foi a última província a aderir à independência, mas a primeira a apoiar os portugueses na Revolução Liberal de 1820”, explica.
O blefe que mudou a história
A adesão não foi conquistada por consenso. Em 1823, Dom Pedro I enviou ao Pará o comandante inglês John Pascoe Grenfell, subordinado a Lord Thomas Cochrane, com a missão de negociar a união ao Brasil. Grenfell desembarcou em Belém anunciando que uma esquadra estava ancorada em Salinas, pronta para bloquear o porto e isolar a capital caso o governo provisório não aceitasse a independência.
O que se descobriu depois é que a ameaça era um blefe — não havia frota alguma posicionada para o ataque. Ainda assim, a pressão funcionou: em 15 de agosto de 1823, no Palácio Lauro Sodré, 107 autoridades civis, militares e eclesiásticas assinaram a ata reconhecendo Dom Pedro I como imperador do Brasil. O documento histórico está preservado no Arquivo Público do Estado.
Expectativas frustradas e revoltas sangrentas
A adesão criou a expectativa de que o Pará teria maior autonomia política e administrativa. Contudo, as estruturas de poder pouco mudaram. Os mesmos cargos e privilégios permaneceram concentrados nas mãos da elite lusitana, o que gerou insatisfação entre parte da população — especialmente militares, funcionários públicos, mestiços, indígenas e escravizados.
Três meses após a assinatura, em outubro de 1823, eclodiu a revolta conhecida como Tragédia do Brigue Palhaço. Tropas paraenses insurgiram-se contra o governo imperial, exigindo igualdade de direitos em relação aos portugueses. A repressão foi brutal: 256 revoltosos foram confinados no porão do navio São José Diligente, sufocados, fuzilados ou mortos por asfixia. Esse episódio fortaleceu o sentimento de identidade paraense e alimentou a chama de movimentos futuros.
Da adesão à Cabanagem: a semente de uma revolução
A instabilidade política e social do período criou o terreno para a Cabanagem (1835-1840), uma das mais sangrentas revoltas populares do Brasil, que mobilizou indígenas, negros, mestiços e pobres contra as elites locais e o governo imperial. Estima-se que a população do Pará tenha diminuído quase pela metade durante o conflito.
Para a professora Magda Ricci, a adesão de 1823 não foi apenas um ato político, mas o início de um processo de construção de uma identidade no Norte do Brasil — algo que permanece inacabado. “Ainda hoje precisamos lutar por uma cidadania plena e por práticas sociais e políticas mais igualitárias”, avalia.
O legado na Amazônia e na identidade brasileira
A adesão do Grão-Pará à independência trouxe reflexos que vão além do território paraense. Ao consolidar a união política da Amazônia ao Brasil, o episódio ajudou a definir os contornos geopolíticos do país. Por outro lado, a forma como ocorreu — com blefes, imposições e exclusão de boa parte da população do processo decisório — deixou marcas profundas nas relações de poder e na percepção de pertencimento da região.
Hoje, 202 anos depois, o 15 de agosto segue sendo mais que um feriado: é um convite à reflexão sobre o significado de ser brasileiro na Amazônia e sobre a importância de preservar a memória histórica para compreender os desafios atuais de integração, autonomia e identidade no Norte do país.
Com Informações: Para Web News